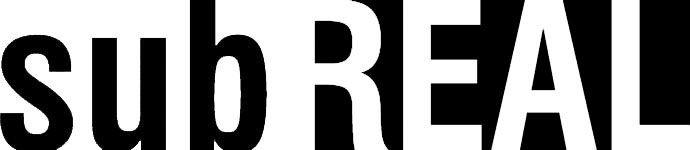Com o Instagram a fotografia democratizou-se?
Não creio. Vulgarizou-se o acto de registar momentos triviais do quotidiano. A continuação, talvez, do que se iniciou com as câmaras fotográficas descartáveis dos anos 60 e as fotografias polaroids, que domesticaram a fotografia e a introduziram na esfera do pessoal e íntimo. O Instagram massificou, a uma escala global, essa invasão da esfera pública pela privada. Naturalmente, nesta avalanche, encontrar-se-ão belíssimas imagens e fotografias. Mas fotografia será outra coisa que a mera propagação de imagens. Exigirá um pensamento e uma construção mais complexa do real, que ultrapassará o simples registo da banalidade. E o Instagram torna a banalidade um evento quase global. Consideras-te um fotógrafo se só usares um iPhone? Não, claro que não. Aliás, nunca tinha tirado fotografias que não as ocasionais, como qualquer pessoa. O iPhone poderá é fazer despertar a atenção para uma nova possibilidade da fotografia, justamente pela proximidade sobre os objectos fotografados. Revelar uma espontaneidade provocada por essa intimidade. Uma espécie de estado da arte da civilização do lazer, ou do espectáculo. Creio que nenhuma legislação do mundo se possa substituir à sensibilidade de quem fotografa e publica. Sob pena de tornar a fotografia ou a imagem um objecto de pornografia. Porquê fotografar pessoas? Para dizer a verdade, não encontro grande explicação. Como disse, antes de ter um iPhone nunca tinha fotografado com regularidade. E só há poucos meses, não sei por que razão nem motivação, comecei a fotografar pessoas. Talvez me tenha interessado essa espontaneidade ou autenticidade das pessoas nas situações mais triviais a que, por definição, não damos atenção nenhuma. E os rostos – o pedaço mais verdadeiro da Verdade? A tua formação de arquitecto tem influência na maneira como enquadras as pessoas no teu plano? Admito que sim. Mas também me tenho obrigado a sair dessa “grelha” ou dessa “geometria” intuitiva. Aliás, quando instalei o Instagram no telefone, fotografava maioritariamente arquitecturas. E era claramente esse olhar de arquitecto. Mas as pessoas são bastante mais complexas do que um edifício. Terrivelmente mais difíceis de fotografar. Até onde pode ir um “fotógrafo de pessoas” sem pisar a linha do íntimo? É um território movediço. É um perigo. Porque exactamente se está no território da intimidade, mesmo que seja uma fotografia registada na rua, onde a fronteira entre o público e o privado é, aparentemente, mais evidente, tenho-me perguntado se o “roubo” de uma expressão ou de um rosto ou de um corpo a passar não é exactamente isso, um roubo e uma intrusão na privacidade de cada um. Tenho um arquivo de centenas de fotografias não publicadas, no Facebook ou no blogue, justamente pela razão de me parecer estar a ultrapassar uma linha do privado que não deverá ser ultrapassada, ou pelo menos sem o consentimento de quem é fotografado. Mas aí, creio que nenhuma legislação do mundo se possa substituir à sensibilidade de quem fotografa e publica. Sob pena de tornar a fotografia ou a imagem um objecto de pornografia. Há algum aspecto do quotidiano que te recuses fotografar? À partida, e se falamos de pessoas, não me parece haver nada nelas que não mereça ser fotografado. Mas dependerá sempre do contexto. Lá está, talvez uma fotografia não se possa ler isolada do que está à volta. Sob pena de se tornar apenas numa bonita imagem – o que às vezes não é pouco. Mas isso a publicidade faz bastante melhor. Não me parece que a fotografia como disciplina se possa reduzir à produção de «bonitas imagens». Antes pelo contrário. Nos dias de hoje, até por causa do momento económico, sentes que o mundo está mais em tons de cinza? Não. De todo. Ainda há dias num jantar alguém dizia, sobre o séc. XVII, que o mundo nessa época seria muito mais interessante, ao que alguém respondeu que o mundo é sempre interessante. Acredito nisso. Os problemas da História são os problemas da História. Se calhar os problemas são os mesmos desde que a História começou, talvez sejam apenas questões que passam de moda ou regressem à moda, à ordem do dia. E talvez seja do nosso vício eurocêntrico pensarmos que a crise é global. O que não é verdade. É uma crise de um pedaço do mundo, o Ocidente, que, quanto a mim é o pedaço mais civilizado e “humanizado” do mundo e da História – sem relativismos – e que não se está a saber enquadrar e encontrar no meio do movimento da História que estamos a atravessar. E talvez porque se esteja a afastar de si próprio. Mas se formos ao Rio de Janeiro ou olharmos para Xangai ou Moscovo, não me parece que a lógica da crise que nós aqui vivemos se possa reconhecer nas ruas dessas cidades. Sentes de alguma maneira que estás a catalogar a sociedade da decepção? Não. Porque o humano, e estamos a falar de imagens de pessoas, é, às vezes, do domínio do milagre. Ou do inesperado. E, ainda dentro da História, a pobreza material ou a penúria – a que dramaticamente muitos de nós estamos a ser atirados incompreensivelmente – nunca foi razão exclusiva ou mesmo central para a decepção ou a resignação ou o medo. Talvez seja mesmo o contrário. E talvez o problema tenha sido termos construído vidas assentes apenas numa ideia de progresso material. Ou das expectativas pessoais que a sociedade do consumo respondia sempre com a lógica do consumo, até para curar as feridas narcísicas de cada um – e é essa a grande perversão da sociedade de consumo. Ou a ideia de progresso humano equivocada e trocada como uma ideia progresso apenas material. Nesse sentido, esta crise que o Ocidente atravessa, mais do que económica é essencialmente cultural. A ruptura das ideologias da modernidade. O fim da ideia optimista da redenção humana no aqui e no já da Terra. Talvez seja do nosso vício eurocêntrico pensarmos que a crise é global. O que não é verdade. É uma crise de um pedaço do mundo, o Ocidente, que, quanto a mim é o pedaço mais civilizado e “humanizado” do mundo e da História. Passaste pelo Brasil e regressaste a Lisboa. Que impressões trouxeste do paradigma de um país emergente? Apesar de tudo, a minha experiência foi muito localizada no Rio de Janeiro. E o Brasil são brasis. Múltiplas realidades, absolutamente diversas realidades. O facto é que se sente esse optimismo e essa vibração do futuro. Não sei até que ponto algo equivocada. Com um pouco de atenção verifica-se que esse “novo paradigma” é o velho paradigma do consumo. Uma ideia de prosperidade assente na adesão incondicional aos modelos sociais e culturais europeus, mas sobretudo norte-americanos. Às vezes guardava a impressão de uma colonização de facto por parte dos Estados Unidos sobre o Brasil. Há uma espécie de ritual iniciático, uma coisa parecida com as viagens dos nossos finalistas de liceu a Lloret del Mar, que é as famílias de classes altas levarem os adolescentes à Disney World, na Florida. Esse ritual de passagem é agora disseminado pelas classes médias ascendentes. E, penso, nestes comportamentos nota-se muito essa voragem dos territórios emergentes por esse modelo cultural e de vida que, em primeira instância, é fornecido pelos Estados Unidos. Uma outra vez, notei o título da Folha de São Paulo que alertava para a alteração da dieta dos brasileiros, a troca do tradicional arroz com feijão, associada a uma certa ideia de pobreza, por uma dieta de doces e coca-cola, associada à ideia da prosperidade. Parece-me elucidativo. E há bairros que me pareceram uma espécie de Miami dos pequenitos, ou dos pobrezitos, uma espécie de ostentação remediada com o “jeitinho carioca”, que é muito o nosso desenrasca açucarado. Apesar de tudo, o Rio de Janeiro é um contexto muito particular. Para além da lendária e verdadeira felicidade carioca, aquele Verão eterno, o Rio sente-se a regressar à capitalidade cultural, ou, pelo menos, a voltar ao seu espaço natural de cidade global. Cidade presente no imaginário de todos em qualquer parte do mundo. Naturalmente, os grandes eventos – Jornadas Mundiais da Juventude 2013; Campeonato Mundial de Futebol 2014; Olimpíadas 2016 – contribuirão para essa divulgação massiva. A questão é a de saber até que ponto deste tipo de eventos sobrará alguma coisa para a qualidade de vida dos cariocas, para além da altíssima pressão e especulação imobiliária. Não estou optimista quanto a isso. Nem quanto a um suposto novo paradigma. Parece-me que é mais do mesmo, a voragem da lógica do consumo, sem qualquer outra ideia de progresso e de relação até, ou sobretudo, com a própria natureza, a voragem da lógica da “procura de novos mercados”. E a uma escala a que um europeu e português terá alguma dificuldade em entender. Havia uma máxima que dizia “Não basta sermos bonitos, temos de ser duros!”. Isto aplica-se mais a Portugal ou ao Brasil? Perdoa-se tanta coisa em nome da beleza, lá como cá. O Rio de Janeiro é uma cidade de excesso. De tudo. Tanto de beleza como de dureza. A Natureza é excessiva, o clima é excessivo, a alegria, às vezes, é excessiva. Mas também as imagens mais duras e cruas que vi, vi-as no Rio de Janeiro. Os pacotes turísticos para a favela são uma tremenda perversão e o baile funk o excesso da beleza e da dureza. Aqui a beleza é outra. São saudades diferentes, a da bossa-nova e a do fado. O Rio de Janeiro é uma cidade de excesso. De tudo. Tanto de beleza como de dureza. Aqui a beleza é outra. São saudades diferentes, a da bossa-nova e a do fado. Como é que um fervoroso benfiquista que gosta do vermelho foi parar ao preto e branco? Tudo o que é sagrado exige alguma parcimónia. O manto vermelho sagrado não se pode transportar todos os dias. Está guardado para as próximas semanas para a Rotunda do Marquês. Blog: http://sub–real.blogspot.pt/ Facebook: https://www.facebook.com/barbarasinvasoes Instagram: http://instagram.com/joaoamarocorreia/ Entrevista de Pedro Miguel Fotografias de João Amaro Correia Montagem fotos de capa: Ricardo Graça (Publicado a 9 Maio 2013) in PREGUIÇA MAGAZINE |