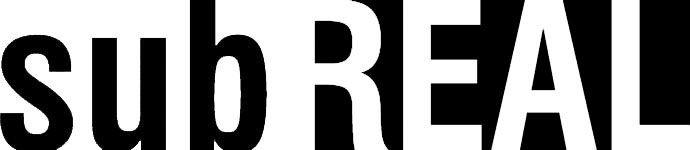A proposta do André Barata pode muito bem ser tida com proveito para pensar o que foi, é, a prática dos arquitectos sobre o território, as cidades, e a paisagem. E a própria acção dos orgãos e associações corporativos que, parecem, são dissociados da realidade dessa prática. Ou, no mínimo, silenciados. É evidente a relevância da propriedade fundiária e imobiliária para a estruturação da economia geral do país e da paisagem em que essa economia se exerce, no contexto de uma economia de mercado, num sector, paradoxalmente, hiper-legislado mas absolutamente desregulado - antes, regulado pelos interesses fácticos dos construtores, nas teias das leis do financiamento partidário e das finanças locais, que abrem brechas ao convívio pouco saudável, funesto mesmo, entre agentes económicos privados com (legítimos) interesses de lucro e agentes da causa pública com (ilegítima) ignorância, desleixo e incúria, sobre o bem comum. E, em movimento contrário, deveria ser ela própria, a paisagem, centro de um pensamento de uma política económica que ultrapassasse os lúdicos e provincianíssimos – e pouco democráticos, diga-se – PIN’s do ex-ministo Manuel Pinho, ou a megalomania rodo-ferroviária que acomete todo o nosso impulso desenvolvimentista e estraçalha e segrega ainda mais algumas regiões deste «país profundamente desigual». Aparte a lógica cultural fundada na observação de que a galinha do município (ou região) do vizinho é sempre mais fogosa – e modernaça – que a minha, que lobrigou a políticas territoriais e ambientais, com pesadíssimos encargos sobre o quotidiano dos cidadãos, e que hoje se confirmam catastróficas. O resultado destas políticas, ou de ausência delas - que pouco ou nada se debatem em público, soterradas pela avalanche da macroeconomia do ‘ajustamento’- o que tem sido, enfim, a produção do espaço, se assim se possa dizer, adquire contornos de paradoxo entre a visibilidade crua e cruel das suas consequências e a invisibilidade ruidosamente silenciosa das causas. Ou, no mínimo, estas não são tidas em conta no debate que não se está a fazer – salvo parcas luminosas e singulares excepções nas quais o próprio André é interveniente – sobre o que queremos nós de nós e dos lugares que construimos e habitamos. Aquilo que no pensamento do André é fixado como o princípio «Não uso e não pago», traduzo-o para a produção arquitectónica, urbanística e territorial, como princípio Bartleby. Talvez a única posição arquitectónica e política consequentes a tomar hoje pelos arquitectos seja a do não-fazer. Em bom rigor, está tudo construído (feito): país é dotado de parque habitacional suficiente para todos os seus habitantes e ainda sobrarão uns quantos condomínios à beira-mar plantados para o canalizador de Brighton trazer a prole a sazonais retemperadores banhos; as comunidades locais estão essencialmente providas de equipamentos socias e culturais – não é aqui lugar para percorrer o ‘alegado’ cadastro criminal da Parque Escolar e perversão daquilo que seria uma boa ideia, a despeito de socialista; existem ‘acessibilidades’ e ‘vias’ para o progresso marchar do Minho à Madeira. Carece-se sim de vigor na imposição de políticas justas relativamente à habitação – talvez a nova lei das rendas -, de recuperação dos centros das cidades – sem o fausto e o glamour socrático dos programas Polis e em articulação com a política habitacional – impedindo a gentrificação e a consequente segregação das classes mais modestas do centro das cidades e, no pano de fundo de tudo, a percepção do território e da paisagem como organismo sensível a todas estas incidências e práticas, o que só se concretizará pela via holística do planeamento regional e territorial – começar pela implantação de redes regionais, sector a sector, da educação à saúde, da justiça às indústrias, seria um bom princípio dessa política económica e territorial. Nesta história recente, a acção da prática corrente da arquitectura balançou, grosso modo e com excepções que são sempre lugares de beleza e respiração, entre a ensandecida euforia dos anos noventa e a desistência resignada (ou emigrada) hediorna. Pelo meio, os ‘fundos’ europeus, os estádios de futebol mortos, as auto-estradas froteiras e maneiras de o interior mais depressa se esvaziar para o litoral, e muitos equívocos, para não dizer mais, que polarizaram e incentivaram, quer disciplinarmente, que culturalmente, esta acção. E qualquer destas atitudes decorre do olhar acrítico sobre a realidade e a cultura que serve essa realidade. Seria precisamente aqui que os arquitectos (et pour cause, engenheiros e todos quantos trabalham e pensam o território), deveriam ter tido algumas palavras, mesmo que não ouvidas. E se não as ouvimos é porque elas jamais foram pronunciadas ou foram-no tibiamente e eivadas de sentido corporativo. Uma espécie de «abstenção violenta» avant la lettre. Falamos de omissão, portanto. Mas, regressando ao princípio, ao princípio Bartleby (Não uso, não pago), esta omissão a ser praticada pelos arquitectos seria assertiva, afirmativa e, por uma vez, política, inversa da mesquinha, corporativa e egoísta (perdoai o pleonasmo), acção acrítica do passado recente que também cavou parte do buraco onde nos encontramos. Nunca é tarde para nada. Tão pouco para acudir ao território e à paisagem, aos lugares que habitamos. Estes poderão gerar as ‘mais-valias’ que o ministro Santos Pereira ansiosamente persegue e que lhe deixará certamente tempo para um delicioso pastel de Belém que lhe sobre do afã exportador, num lugar mais belo. Ou o legado do regime será uma rede auto-estradas secas ao sol e betão apodrecido pelo abandono. |
preferia não o fazer
- | João Amaro Correia / 30.3.12
-
0
comments