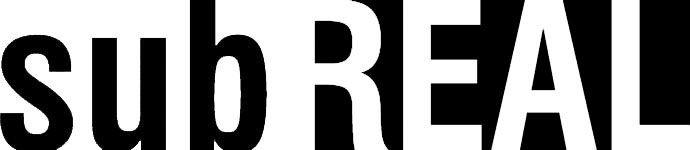[Fahrenheit 451, François Truffaut, 1966]
Presumivelmente que Truffaut não tivesse outra hipótese para onde tocar fogo aos livros. Onde tudo tenderia para a homogeneização, a perda da memória, a impossibilidade da infância, numa utopia descarnada – não por acaso uma sociedade impedida do desejo e do sexo – o território do real acertado, num indício de que a distopia totalitária não nos é tão distante quanto a anestesia que a sociedade liberal tenderá a impor poderá fazer crer, é a arquitectura da tabula rasa: a do esquecimento, a da religião da razão científica imparável, a do pressuposto de um fim redimido do Homem. Poderia ser uma tautologia, não estivéssemos em 1966 e o moderno, exangue, tinha há pouco implodido em contradições internas e na emergência do indivíduo fora de qualquer quadro normativo que se lhe sobrepusesse. Depois foi Maio, em 68.
O que pensamos quando pensamos em distopia?: a transparência despudorada e totalitária do vidro - onde tudo é obsceno porque dentro de cena - [Nós, Zamiatine]; no infinito indiferenciado vazio [THX1138, G. Lucas], nos dispositivos de vigilância electrónicos e de linguagem [1984, Orwell]; na ciência como critério moral [Admirável Mundo Novo, Huxley]? Penso agora que eram isto sementes que o pressuposto modernista transportava.
Em Bradbury nada faria supor a decisão de Truffaut por uma arquitectura que poucos anos antes transportava, também, o fogo: o da superação moral da humanidade. Como os livros, a arquitectura também arde. Sobram a memória e os caminhos da floresta.